
2.º Classificado
Rui Verdasca, 12.ª H
TUDO PODE UMA AFEIÇÃO
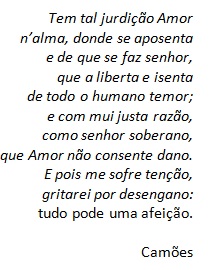

No ano de mil quinhentos e setenta dois, quando o Paço da Ribeira ribombava com uma das suas habituais festividades, tão típicas da corte portuguesa e do pueril rei que sempre se regozijava em caças reais e noturna embriaguez, caminhava à beira do Tejo um sujeito que, olhando o azul nítido das águas, em vão procurava uma ablução que o salvasse. Sentindo o cansaço que o consumia há dias, estava ele no ponto de seu limite, e a vereda em sua frente, tão bonita, nunca fora tão dilacerante como agora. Em verdade, sabia ele que caminhos fizera muitos, mais do que a condição humana requeria, e tantos mais tinha pela frente. Esses eram, contudo, um só – restante e ínfimo (para ele a futura completude) na teia de trilhos e vias que todos os dias se concretizam na vida dos homens. E em breves horas, se é que existem horas ou brevidade, o grande trajeto da sua vida veria o seu princípio, cuja voragem do sonho faria com que acabasse tão rapidamente como começaria. O tempo, na verdade, extingue-se quando em espírito nos tornamos. Não o sentimos. E ele caminhava.
Antes de entrar em sua casa, tinha sido alvo das habituais galhofas que este povo lisboeta lhe lançava, em concreto pelo facto de que do olho direito não via, perdido este na sua viagem ao Oriente. Restou-lhe o esquerdo, local do Diabo; mas que, em pacto com o mesmo, lhe deu dupla visão, afincada e feroz. Tantas vezes dilacerado pela visão dos olhos dos que amou, e daquele verde que nunca se olvidaria, procurava agora a estabilidade que o seu coração tão informe, nunca satisfeito, dificilmente lhe dava. Há tempos, escrevera sobre a insatisfação e dessa felicidade que chega e foge. Lembrava-se vagamente de seus versos, ofício doloso para poeta que é o regurgitar o que se escreve, e matutava na sua mente Não ganhou para perder; mas ganhou, com vida igual, não ter bem nem sentir mal. Que é isso, no entanto, de estar no entre das coisas? Ver serenidade, ler Horácio, lembrar Epicuro? O que sabem eles do amor intenso de um homem que tudo sente e tudo quer e tudo faz? Não sabem nada. O sentimento é englobante, desintensifica-se e retorna num eterno loop de oitos e oitentas, de tal modo que o determinismo, tão real, se submete de joelhos esfarelados àquilo que, sendo inefável, damos o nome amor.
A razão pela qual não sabemos ainda o nome do nosso caminhante deve-se, primacialmente, ao facto de também ele ser desconhecido, na história que aqui se desenrola. Eram poucos os que conheciam o nome de Luís Vaz de Camões. Tinha mãe esperando em casa, amor primevo que só mães conhecem. E poucos eram os seus conhecidos e amigos, para além dos seus amores que perseguia, em caso esquecidos, já que os rios de tinta que escrevera serviam essa mesma função reminiscente. Ultimamente, apenas o inquisidor-mor do Santo Ofício o ia vendo com alguma frequência, nas viagens de idas e voltas que Luís Vaz dispunha, a fim de finalmente publicar a sua obra, poema épico sobre a gesta portuguesa no Oriente. Eis o motivo de seu cansaço e descontentamento: esse ofício, que é santo, obrigara-o a modificar estâncias e versos, tão queridos na mente de um poeta, pelo que tão contundente é ter que os assassinar. Muito paradoxal era, então, essa santidade – uma que nos deu liberdade, lá com Adão e Eva, e agora o calava, como se não tivéssemos comido a maçã da árvore da vida, para vermos que somos nus.
Tendo entrado em casa, o parecer do Santo Ofício tinha sido em boa hora e, desta vez, permissivo; mas Luís Vaz, numa última vertiginosa releitura, não estava satisfeito. Tudo retornava ao seu canto nono, seu canto tão precioso que a seus olhos era o seu orgulho. Lia-o com frequência quando, pacato e tristonho, tentava buscar-lhe algum deleite, algum descanso. Pensando-o irrealizado, mormente com a parte final do canto sublime, e lembrando Ovídio quando este escrevia finis coronat opus, sabia que necessitava coroar o final para que a sua obra enfim se concretizasse na sua plenitude. E tudo voltava a Platão: a chave aristofânica da vida e da obra camoniana, o seu epítome vital que é o transformar-se o amador na coisa amada. Estranha linguagem pensaria Luís Vaz: um apelido, Camões, tornar-se em adjetivo, camoniano, este que desconhecido era. Sentia, de qualquer forma, que faltava algo entre o verso que acabava a estância octogésima segunda Que todo se desfaz em puro amor e o que iniciava a sua octogésima terceira Que as Ninfas do Oceano, tão fermosas. Porém, qual era a carência dessa poesia? Cerca de seis estrofes, que Luís Vaz ainda não conhecia; mas era forte e grandioso o que profetizava escrever, porque o fim é, discorram os eruditos, o clímax do que se implanta no papel, tal como o é da vida. Não conhecia, contudo, o que faltava, esse quê ainda não materializado, se alguma vez o foi. E em desespero de criador, pronto a enunciar novamente, em rugidos interiores, não mais, não mais que a lira tenho destemperada e a voz enrouquecida, caiu Camões em sonoe, nesse profundo Oceano dessa Ilha que vinha relatando, sonhava…
Na Ilha em que estava, esta que é do Amor e não dos Amores, via todo o tipo de verdes que a Natureza podia conjurar; mas, no topo, entre as nuvens, estava o mais distinto de todos: o dos olhos daquela vista que nunca se olvidaria. A sua grande paixão, ainda pequenina neste a priori que é o ver, fulminava-o, e Camões corria, louco, fugindo cada vez mais da realidade que o ameaçava acordar. Exasperante, a escada etérea prostrou-se ante seus olhos: ah, que tudo acontece nos olhos! Subia os degraus, os mais intensos, o caminho que lhe faltava percorrer… Certamente Vénus estava a olhá-lo em deleite. Subia, pensando no Tejo, e sobre os rios que vão ao seu encontro, afinal ele os procurava. Em raio agigantado, trovante, criador, Camões perdeu-se entre as nuvens, verdeficando-se, se se pode neologizar o inefável, pleno na constante poeticidade sua de transforma-se o amador na cousa amada. Ah, Aristófanes, que em banquete vias Sócrates e ele a ti te via! O olhar de ambos, as metades e a escada! A Ilha transformou-se, Camões transformou-se, e tudo passou a verde. Foi o amor, e despertou… Luziu a lamparina, a luz era real. Deixando a espada de seus infortúnios passados, pegou na pena, sua estimada instrumentalização de si mesmo, e em voragem espiritual, não sentindo o tempo, escreveu esses versos que lhe faltavam. Principiando uma nova estância octogésima terceira Oh! Que famintos beijos na floresta, acabava quarenta e seis versos depois Com fama grande e nome alto e subido. Havia terminado a derradeira obra. E pensava: olhos verdes, olhos verdes que sois o sumo da perfeição e porque são vossos! E, por isso, meus…
Luís Vaz, imaterializando-se, em verdade se diga, para sempre de louro e de ouro e flores abundantes, subiu ao telhado de sua casa. No topo, vendo ao longe o Paço da Ribeira e as festas que lá iam, olhou o Tejo: a água era, e sempre fora, verde. Olhou de novo e, finalmente, já quase no fim da vida, após inúmeros galanteios e engates, percebeu que o Amor é um só: para um amador, uma só cousa amada, a metade que vagueia pela outra, pelas ínsulas mais dispersas em oceanos por achar se aí for verdadeiro o sentimento líquido da origem criadora. Em cima do telhado, sentindo a alma em que se tornara, unindo-se nele mesmo, no poema que pelo amor terminou, e olhando somente o verde do Tejo, murmurou, sorrindo, tudo pode uma afeição…
