
Conto
XX Concurso de Conto

PARABÉNS ÀS GRANDES VENCEDORAS
1.º Classificado – Matilde Marques
2.º Classificado – Letícia Santos
com “Reencontro”
XVIII Concurso de Conto

1.º Classificado
Diogo Heleno, 12.º B
Livro Segundo
«Benedixitque illis Deus et ait crescite et multiplicamini et replete terram et subicite eam et dominamini piscibus maris et volatilibus cæli et universis animantibus quæ moventur super terram»[1]
«Ó Senhor, eu sou Voss[a] serv[a], sim, Voss[a] serv[a] e filh[a] de Vossa escrava. Quebrastes as minhas cadeias; sacrificar-Vos-ei uma vítima de louvor»[2]. Meu Amor por Vós é aderente e tomado de tal tenacidade que resiste a qualquer tentativa de rutura. Quebrem-se-me as tíbias, ó meu Deus, para que não possa mais andar. Arranquem-se-me as maxilas, ó meu Deus, para que não possa mais falar. Perfurem-se-me as veias, ó meu Deus, para que não possa mais existir. E nesta falta de andamento e de fala e de existência, habito em Vós e por Vós me encho de júbilo. Ouvi agora benignamente esta prédica que a Vós se dirige, porque a ignomínia não se esgotou no que já disse, antes jaz putrescente nesta minh’alma sequiosa de imaculabilidade.
Prosseguirei, pois, com as minhas húmiles Confissões. E neste momento de resolução, tacteio o meu coração e lhe reconheço o Amor fecundo por Nosso Senhor Jesus Cristo em cada uma das suas fibras. Tangei-mas, ó meu Deus, neste instante de mortificação cavada até ao âmago pelágico desta minha essência, e fazei delas suave melodia que desperte os Homens deste malfadado sono e os restitua à vigília, tal qual David, que tangendo, por seu turno, sua lira, expurgava Saúl de seus malignos espíritos. Que eu seja Vossa lira e que o canto que dela emane seja pleno de complacência e Vos louve segundo a Vossa imensidão, grandiosamente, com tamanha veemência que supere em intensão a de todas as canoras trombetas, sonoros címbalos, ressonantes saltérios, cítaras, frautas, sinos, aulos, tambores! Um grito de aleluia expedido ao mais elevado firmamento!
Dest’arte, iniciarei minha confidência. Por Vós guiada fui até à longínqua Nicomédia, penitenciando durante a longa peregrinação, na tentativa de fazer luzir da minha comorbidade clareira imensa que me livrasse da vérmina de que padecia. E, ó meu Deus!, quanto Vos agradece esta Vossa serva por nunca me faltardes, mesmo naquelas asfixiantes e calcinadoras Horas Sextas de verão! Orava perseverantemente, pelas folhagens desfalecidas, pelas crespas sarças, ásperos cardos e abrolhais, pelos arbustos que inclinavam as sumidades ante o Sol férvido, rememorando-me dos Vossos mistérios e da paixão de Cristo, apropriando-me da fogosidade do astro e transformando-a em fogosidade religiosa. E nesses momentos de êxtase, olhando a espaços aquilo que me circunscrevia, não eram rochedos, nem arroios, nem boninas o que tão comoventemente observava, mas sim obras de Deus, obras Vossas, penetradas pela Vossa claridade!
Só então compreendi quão parasíticos são os Homens, e eu, meu Deus, e eu! Pois quê? É que dissestes ao dia sexto que o Homem dominasse as restantes criaturas, mas não seria esse domínio para ser praticado da mesma forma com que nos dominais, caridosa e benevolentemente? Disse Jesus: iam non dico vos servos quia servus nescit quid facit dominus eius vos autem dixi amicos quia omnia quaecumque audivi a Patre meo nota feci vobis[3]. Se assim é, não deveria o Homem agir perante a Vossa Criação exercendo domínio amical, zeloso em desbastar as ramudas cepas e lhes conservar os pedúnculos cárpeos, em vez de consumir essa mesma cepa? Sim, porque os Homens não se saciam com os carpos somente, senão que devoram tudo o que lhe surja, os pedúnculos, as hastes, as estirpes, a seiva, os seixos, o que os rodeia, e o que mais além se figura. Devoram o horto, a leiva inteira, o latifúndio e tudo o que lhes é menor e subordinado, os currais, os terreiros, os eirados, as varas, rebanhos, cardumes, os próprios hortelões, rendeiros, granjeiros! Devoram tudo e os da própria qualidade. E de todo este férculo orgíaco, é o mesmo Homem que, ébrio, repousa num encosto, eructando ruidosamente, regurgita a matéria putrefacta, sente-lhe o acre sulfúrico, a emanação excrementícia, os glóbulos pastosos por digerir cuja configuração tão prazerosamente se demora em adivinhar serpejando a língua pelo palato, carcomido pelos ácidos e pelos vermes que se locomovem em espasmos, mais perturbados pela repugnante atmosfera fecal em que nadam que o dono daquela boca, que agora desperta deste enlevo (um fedor lhe atiçou a glutonia), sonda o mento peludo, encontra uma falange olvidada, observa-a como que intentando se lembrar a quem já pertencera, perde-se no pensamento, já não lhe importa, esgravata com a unha agarrada àquele osso os dentes imundos que ainda retém, rói o restante, e num ímpeto fulminante de ânimo e glória, num derrame de gáudio supremo, levanta-se e, ah meu Deus!, ergue as mãos aos céus, profere «Abençoai este alimento que tomo» e engole tudo, empurrando aquele visco até às entranhas sedentas! Afasta-se sem tardança daquele local (para o mais comum dos observadores nada acontecera), espera-o nova refeição, que isto é gente de muito alimento.
Isto, meu Deus, é a verdadeira gula! A dos que não têm verdadeira boca!, porque verdadeira é aquela que profere o Verbo, espargindo a Palavra do Senhor e fazendo-o à Vossa semelhança! Não mais que cavidades distópicas são aquelas que proferem a repulsa e estabelecem o domínio por soberba subordinação dos corpos que só a Vós pertencem, autêntica emulação de cecos.
E eu, meu Deus, eu sou implicada!, porque quando descasco um aromático pomo ou uma doce laranja, ao lhe tirar esses invólucros e essas túnicas orgânicas, faço-o desinteressada e precipitadamente como se fosse condição imanente daqueles frutos o terem sido criados para meu proveito e divididos convenientemente em gomos para mais fácil ser o seu consumo. Mas facilis est descensus averni[4], fácil é trilhar o caminho do mal. Não será aquela minha atitude um princípio para atitudes mais graves e mais abjetas, meu Deus? Tal qual quando sacudimos um qualquer inseto alado que nos incomode, quando calcamos as lâminas das ervas rasteiras, isso não será a causa primeva para o Homem manipular as Vossas criaturas como se a ele pertencessem? Não será isto a causa das gaiolas, das cadeias, das piozes, das trelas, dos jugos, das esporas?
Não digo que objetos tais sejam perdição, mas a intenção, meu Deus, a intenção com que os manuseiam é que encerra a vil baixeza – a de o Homem tudo querer devorar, (de novo) desinteressada e precipitadamente. E o mais miserável, o mais pungente, é que o que o mesmo Homem traga mais frequentemente, e num só gole, são outros Homens, outros a que não me refiro nestas Confissões, porque imerecedores de repreensão, porque flébeis e, ainda assim, humildes e temerosos a Vós – os mais puros cristãos, os únicos a que é digno atribuir tal designação.
De todo o modo, enfermidades do ventre, boca, intestinos e coisas que tais estão sob o ministério de Santo Erasmo, ou São Elmo (como aprouver ao freguês), sempre em frente, direita.
Mas ó meu Deus!, eu Vos peço, ó Criador do Céu e da Terra, mitigai esta minha dor, lenificai esta minha perversão, pois pensei ter senhorio deste pó e destas lágrimas e deste mundo à vista e, por isso, os usei sem a morabeza com que Vós me criastes e a todas as coisas! Animai-me de confiança, porque não me reconheço em Luzia, pois me parece que luzir nunca fui capaz! Ó meu Deus, santificai estes ossos, estes humores, estes olhos, este ventre!… Diga? Desculpe? Ah, muito bem, deixe só… Muito bem, pode dizer… nove, cinco, um, cinco, zero, oito, zero, três… repita só o último, se faz favor…um? Muito bem… Diga-me só uma coisa, Elmo leva H?
[1] «E Deus os abençoou, e Deus lhes disse: Frutificai e multiplicai-vos, e enchei a terra, e subjugai-a; e dominai sobre os peixes do mar e sobre as aves dos céus, e sobre todo o animal que se move sobre a terra» (Genesis, 1:28)
[2] Salm. CXV, 16-17
[3] «Já não vos chamo servos, porque o servo não sabe o que faz o seu senhor; chamo-vos amigos, porque tudo quanto ouvi de meu Pai vos dei a conhecer» (João, 15:15)
[4] Virgílio, Eneida, VI, 126.
XVIII Concurso de Conto

2.º Classificado
Rui Verdasca, 12.ª H
TUDO PODE UMA AFEIÇÃO
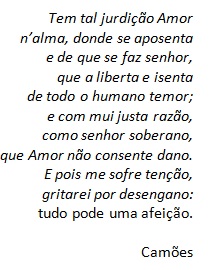

No ano de mil quinhentos e setenta dois, quando o Paço da Ribeira ribombava com uma das suas habituais festividades, tão típicas da corte portuguesa e do pueril rei que sempre se regozijava em caças reais e noturna embriaguez, caminhava à beira do Tejo um sujeito que, olhando o azul nítido das águas, em vão procurava uma ablução que o salvasse. Sentindo o cansaço que o consumia há dias, estava ele no ponto de seu limite, e a vereda em sua frente, tão bonita, nunca fora tão dilacerante como agora. Em verdade, sabia ele que caminhos fizera muitos, mais do que a condição humana requeria, e tantos mais tinha pela frente. Esses eram, contudo, um só – restante e ínfimo (para ele a futura completude) na teia de trilhos e vias que todos os dias se concretizam na vida dos homens. E em breves horas, se é que existem horas ou brevidade, o grande trajeto da sua vida veria o seu princípio, cuja voragem do sonho faria com que acabasse tão rapidamente como começaria. O tempo, na verdade, extingue-se quando em espírito nos tornamos. Não o sentimos. E ele caminhava.
Antes de entrar em sua casa, tinha sido alvo das habituais galhofas que este povo lisboeta lhe lançava, em concreto pelo facto de que do olho direito não via, perdido este na sua viagem ao Oriente. Restou-lhe o esquerdo, local do Diabo; mas que, em pacto com o mesmo, lhe deu dupla visão, afincada e feroz. Tantas vezes dilacerado pela visão dos olhos dos que amou, e daquele verde que nunca se olvidaria, procurava agora a estabilidade que o seu coração tão informe, nunca satisfeito, dificilmente lhe dava. Há tempos, escrevera sobre a insatisfação e dessa felicidade que chega e foge. Lembrava-se vagamente de seus versos, ofício doloso para poeta que é o regurgitar o que se escreve, e matutava na sua mente Não ganhou para perder; mas ganhou, com vida igual, não ter bem nem sentir mal. Que é isso, no entanto, de estar no entre das coisas? Ver serenidade, ler Horácio, lembrar Epicuro? O que sabem eles do amor intenso de um homem que tudo sente e tudo quer e tudo faz? Não sabem nada. O sentimento é englobante, desintensifica-se e retorna num eterno loop de oitos e oitentas, de tal modo que o determinismo, tão real, se submete de joelhos esfarelados àquilo que, sendo inefável, damos o nome amor.
A razão pela qual não sabemos ainda o nome do nosso caminhante deve-se, primacialmente, ao facto de também ele ser desconhecido, na história que aqui se desenrola. Eram poucos os que conheciam o nome de Luís Vaz de Camões. Tinha mãe esperando em casa, amor primevo que só mães conhecem. E poucos eram os seus conhecidos e amigos, para além dos seus amores que perseguia, em caso esquecidos, já que os rios de tinta que escrevera serviam essa mesma função reminiscente. Ultimamente, apenas o inquisidor-mor do Santo Ofício o ia vendo com alguma frequência, nas viagens de idas e voltas que Luís Vaz dispunha, a fim de finalmente publicar a sua obra, poema épico sobre a gesta portuguesa no Oriente. Eis o motivo de seu cansaço e descontentamento: esse ofício, que é santo, obrigara-o a modificar estâncias e versos, tão queridos na mente de um poeta, pelo que tão contundente é ter que os assassinar. Muito paradoxal era, então, essa santidade – uma que nos deu liberdade, lá com Adão e Eva, e agora o calava, como se não tivéssemos comido a maçã da árvore da vida, para vermos que somos nus.
Tendo entrado em casa, o parecer do Santo Ofício tinha sido em boa hora e, desta vez, permissivo; mas Luís Vaz, numa última vertiginosa releitura, não estava satisfeito. Tudo retornava ao seu canto nono, seu canto tão precioso que a seus olhos era o seu orgulho. Lia-o com frequência quando, pacato e tristonho, tentava buscar-lhe algum deleite, algum descanso. Pensando-o irrealizado, mormente com a parte final do canto sublime, e lembrando Ovídio quando este escrevia finis coronat opus, sabia que necessitava coroar o final para que a sua obra enfim se concretizasse na sua plenitude. E tudo voltava a Platão: a chave aristofânica da vida e da obra camoniana, o seu epítome vital que é o transformar-se o amador na coisa amada. Estranha linguagem pensaria Luís Vaz: um apelido, Camões, tornar-se em adjetivo, camoniano, este que desconhecido era. Sentia, de qualquer forma, que faltava algo entre o verso que acabava a estância octogésima segunda Que todo se desfaz em puro amor e o que iniciava a sua octogésima terceira Que as Ninfas do Oceano, tão fermosas. Porém, qual era a carência dessa poesia? Cerca de seis estrofes, que Luís Vaz ainda não conhecia; mas era forte e grandioso o que profetizava escrever, porque o fim é, discorram os eruditos, o clímax do que se implanta no papel, tal como o é da vida. Não conhecia, contudo, o que faltava, esse quê ainda não materializado, se alguma vez o foi. E em desespero de criador, pronto a enunciar novamente, em rugidos interiores, não mais, não mais que a lira tenho destemperada e a voz enrouquecida, caiu Camões em sonoe, nesse profundo Oceano dessa Ilha que vinha relatando, sonhava…
Na Ilha em que estava, esta que é do Amor e não dos Amores, via todo o tipo de verdes que a Natureza podia conjurar; mas, no topo, entre as nuvens, estava o mais distinto de todos: o dos olhos daquela vista que nunca se olvidaria. A sua grande paixão, ainda pequenina neste a priori que é o ver, fulminava-o, e Camões corria, louco, fugindo cada vez mais da realidade que o ameaçava acordar. Exasperante, a escada etérea prostrou-se ante seus olhos: ah, que tudo acontece nos olhos! Subia os degraus, os mais intensos, o caminho que lhe faltava percorrer… Certamente Vénus estava a olhá-lo em deleite. Subia, pensando no Tejo, e sobre os rios que vão ao seu encontro, afinal ele os procurava. Em raio agigantado, trovante, criador, Camões perdeu-se entre as nuvens, verdeficando-se, se se pode neologizar o inefável, pleno na constante poeticidade sua de transforma-se o amador na cousa amada. Ah, Aristófanes, que em banquete vias Sócrates e ele a ti te via! O olhar de ambos, as metades e a escada! A Ilha transformou-se, Camões transformou-se, e tudo passou a verde. Foi o amor, e despertou… Luziu a lamparina, a luz era real. Deixando a espada de seus infortúnios passados, pegou na pena, sua estimada instrumentalização de si mesmo, e em voragem espiritual, não sentindo o tempo, escreveu esses versos que lhe faltavam. Principiando uma nova estância octogésima terceira Oh! Que famintos beijos na floresta, acabava quarenta e seis versos depois Com fama grande e nome alto e subido. Havia terminado a derradeira obra. E pensava: olhos verdes, olhos verdes que sois o sumo da perfeição e porque são vossos! E, por isso, meus…
Luís Vaz, imaterializando-se, em verdade se diga, para sempre de louro e de ouro e flores abundantes, subiu ao telhado de sua casa. No topo, vendo ao longe o Paço da Ribeira e as festas que lá iam, olhou o Tejo: a água era, e sempre fora, verde. Olhou de novo e, finalmente, já quase no fim da vida, após inúmeros galanteios e engates, percebeu que o Amor é um só: para um amador, uma só cousa amada, a metade que vagueia pela outra, pelas ínsulas mais dispersas em oceanos por achar se aí for verdadeiro o sentimento líquido da origem criadora. Em cima do telhado, sentindo a alma em que se tornara, unindo-se nele mesmo, no poema que pelo amor terminou, e olhando somente o verde do Tejo, murmurou, sorrindo, tudo pode uma afeição…
Concursos da Mediateca
Depois do XIX Concurso de Poesia, com participações excelentes, que acabaram por valer um prémio nacional para o nosso aluno Miguel Mota (2.º lugar no Concurso Faça Lá um Poema, promovido pelo PNL), iniciamos hoje a divulgação dos premiados dos restantes concursos dinamizados pela Mediateca (Conto, Fotografia, Uma História em Imagem(s) e Fala Barato).

3.º Classificado
Ariana Roque, 11.º A
Conta-me uma história mamã
– Sofia! Anda para a cama que amanhã tens escolinha bem cedo. –Chamei-a já exausta de um longo dia de trabalho.
-Já vou mamã, andava só à procura do meu ursinho de peluche. – diz-me deitando-se na cama e deixando-me aconchegá-la.
Acabo de a preparar para dormir e vou-lhe desejar uma boa noite de sono quando ela me interrompe.
-Mamã, mamã! Conta-me aquela história de como tu e o papá começaram a namorar, aquela que eu gosto muito, por favor mamã conta! – pede-me impaciente e com aquela carinha adorável à qual não consigo negar nada.
– Pronto convenceste-me eu conto-te a história- digo dando um grande sorriso. Esta também é a minha história preferida- “Há dez anos atrás numa pequena cidade, vivia uma menina muito sonhadora. No seu 17º aniversário, no temível ano de 2020, apareceu um poderoso feiticeiro chamado Corona que afetou, não só a cidadezinha da Mafalda, mas também todo o mundo. O feiticeiro era muito poderoso e muito mau. Punha as pessoas muito doentes e trancava as restantes nas suas casas, separando-as das famílias e amigos o que as deixou muito tristes. Diariamente heróis que salvavam pessoas doentes, lutaram arduamente contra o Corona, mas foi uma guerra que demorou muito tempo.
A Mafalda era uma das pessoas trancadas em casa. Não podia sair para lado nenhum, nem podia abraçar os que amava, algo que aos poucos e poucos foi deixando a Mafalda numa tristeza profunda. Quando a Mafalda, cansada de viver em tão grande tristeza, começou em pensar trocar de mundo, apareceu-lhe um belo príncipe encantado que a salvou da sua tristeza”…
-Mas mamã, se as pessoas não podiam sair de casa, como é que o papá, quer dizer o príncipe salvou a Mafalda?
– O príncipe escreveu à Mafalda. –expliquei, recordando-me de como me senti ao receber a 1.ª mensagem do Martim. – ….“O príncipe, que se chamava Martim, era um colega de escola da Mafalda, porém nunca foram muitos chegados, ainda que Mafalda gostasse dele em segredo.
O príncipe escreveu a Mafalda que tinha saudades dela como colega e perguntou-lhe se estava bem, as conversas normais que as pessoas têm, mas daí surgiu uma forte amizade. Os dias, as semanas e os meses foram passando e Mafalda e Martim foram-se tornando cada vez mais amigos, até que um dia os seus corações se uniram e eles souberam que estavam destinados a ficar juntos.
Quatro meses tinham-se passado desde o inicio da enclausura, duas semanas desde que o Martim confessou a Mafalda o seu amor e ainda não se podiam encontrar nem o selar com o beijo típico dos contos de fadas, porque o malvado Corona ainda dominava o mundo e impedia as pessoas de sair de casa.
Mais meses se passaram e os namorados cada vez mais desesperavam por sentir o toque um do outro, mas o Corona permanecia e parecia estar a ganhar a guerra contra os heróis, que sucumbiam aos furiosos ataques do inimigo. Todavia, Martim não parecia ter medo do Corona e saía à socapa de casa para observar Mafalda da janela do seu quarto. Nestes encontros proibidos, Martim declama belos poemas à sua amada enquanto ela o escutava com muita atenção, trocavam-se olhares apaixonados e grandes sorrisos, foi então num destes momentos que juraram que no dia em que os heróis banissem o Corona os dois iriam dar um belo passeio. Continuaram a encontrar-se assim às escondidas, mas um dia Martim não apareceu. Mafalda ficou muito preocupada e escreveu logo ao seu amado. Ele não respondeu. Soube mais tarde por outros que Corona o tinha apanhado. Mafalda nem pensou um segundo, agarrou no que precisava e partiu logo em busca de Martim, mas uma heroína sua amiga impediu-a e prometeu que faria tudo o que lhe fosse possível para o salvar das garras do Corona”….
– O Corona fez mal ao papá, mamã? – disse-me com uma carinha de preocupação.
– Não querida, o papá era um rapaz forte, tal como tu és uma criancinha forte- disse-lhe fazendo cócegas na barriga.
-Espero que tenhas agradecido à tua amiga heroína, porque ela cumpriu a sua promessa! – diz-me esboçando um enorme sorriso. Lembro-me do quão feliz fiquei ao saber que o Martim recuperou da doença. Eu não conto à Sofia, mas o pai dela esteve mesmo às portas da morte. Continuei a minha história:
….“Então passado uns dias (na realidade foi mês e meio) a amiga da Mafalda trouxe o Martim são e salvo e a Mafalda agradeceu-lhe imenso pela sua ajuda. Passado umas semanas as noticias porque todos esperavam chegaram: os heróis estavam a ganhar na guerra ao Corona, esta notícia alegrou a todos e encheu-os de esperanças. Mafalda escreveu logo a Martim: “Finalmente meu amor, finalmente vou poder ver-te e abraçar-te. Já falta pouco querido Martim. Com amor, Mafalda.” Demorou apenas uma semana para conseguirem expulsar de vez o Corona e finalmente as pessoas conseguiram sair à rua.
Mafalda alegrou-se mal pôs o pé na rua. Apreciou o sol na sua face, e o vento nos seus cabelos por uns momentos e logo correu pela cidade fora em busca do seu grande amor, encontrou-o a meio caminho. Parece que tiveram a mesma ideia. Hesitaram por instantes. Era estranho pensarem que finalmente se iriam tocar, quase após um ano de namoro. Foi então que correram para os braços um do outro e selaram o seu amor com o tão esperado beijo.
– E foram felizes para sempre mamã? – pergunta-me Sofia, radiante e com um brilho dos olhos. Esta era realmente a sua história preferida.
– Sim meu amor, eles foram felizes para sempre, principalmente, quando anos mais tarde tiveram a sua filha Sofia. – Ela soltou um delicioso sorriso- Mas agora a menina Sofia tem que dormir que já é muito tarde- falei seriamente e ela assentiu com a cabeça.
Despedi-me com um beijo na testa e apreciei a sua forma de dormir por uns momentos. Segui para o meu quarto onde o Martim já estava deitado a ler um livro. Preparei-me para dormir e deitei-me ao seu lado. Reparo na sua face e sorrio, realmente ele e a Sofia são as melhores coisas na minha vida.
– Amo-te meu amor! – digo-lhe olhando-o apaixonadamente.
Ele pousa o livro e aconchega-me junto a ele.
-Também te amo! – diz-me beijando-me a testa. E então adormeço no calor dos seus braços sentindo-me a mulher mais sortuda do mundo.


